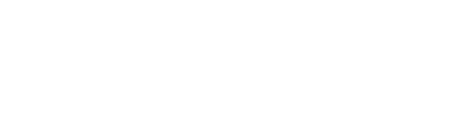O trauma, muitas vezes, é o “modo de piloto automático” que conduz a nossa vida sem que nos demos conta, de tão entranhado que nos está no sentir.
Vive lado a lado com o sofrimento e com os mecanismos de defesa: na insegurança, no medo, na incapacidade, na culpa, na vulnerabilidade.
É quase indissociável da responsabilidade; o que fica, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. E transforma-se numa verdade armadilhada… Aquela que resulta do que sentimos, numa medida muito maior – quase esmagadora – em relação àquilo que, além de sentir, sabemos.
O que sabemos passa a ser fruto do que sentimos à luz das circunstâncias em que o vivemos. E as armadilhas daquilo que muitos autores consideram “o nosso cérebro mais primitivo” começam aqui.
Freud pensou e elaborou bastante sobre a temática do trauma – que, à data, estava sobretudo ligado ao trauma de origem sexual –, e a sua primeira teoria (entre 1890 e 1897) descrevia o trauma como algo que decorria de um evento pontual, uma situação real que possui um “potencial traumatizante”. Neste período, Freud, juntamente com Breuer, descreviam o trauma como um “corpo estranho” que fica guardado no psiquismo do sujeito, desestabilizando o seu psiquismo.
Por outro lado, percebeu-se que os efeitos do trauma são sentidos, sobretudo, a posteriori, sendo no “reviver da memória traumática” que o potencial traumático reside.
Hoje sabe-se que os traumas não são apenas os “maiores” (e.g. abuso sexual, violência física…), mas também alguns “pequenos nadas” que vivem em nós e que se transformam numa espécie de verdades absolutas sobre nós e sobre o mundo.
Desengane-se quem pensa que os traumas são só “coisas muito grandes” – e, talvez por isso, por vezes tentem relativizar aquelas que lhes parecem “nada importante para ter de falar sobre isso” e vivam assombrados por elas -, os traumas que nos parecem “pequenos”, por vezes são aqueles que temos mais dificuldade em “curar”.
Porque não nos permitimos dar-lhes o espaço e destaque que merecem, e acabamos por os esconder naquilo que habitualmente denomino “a gaveta dos assuntos com os quais aprendi a viver”.
De facto, aprendemos a viver com os nossos traumas; não temos outra alternativa, caso contrário, não seríamos capazes de sobreviver emocionalmente. Se calhar, nem de forma alguma. Fazemo-nos munir de mecanismos de defesa ao peito (e nem isso é por acaso, porque a maioria enviesa o nosso sentir), com base em esquemas mal adaptativos precoces e crenças internalizadas sobre nós e ou outros; colocamo-nos à distância, por vezes, sem perceber que o trauma foi tão somente o “chora à vontade, quando te cansares calas-te” que a mãe disse num dia de maior cansaço (ela fez realmente o melhor que soube, mas…) ou naquele dia em que queríamos contar o que aconteceu na escola e o pai respondeu qualquer coisa como “hoje não, que não estou com cabeça. Vai brincar”, ou até no professor que nos mandou ao quadro fazer um exercício que não sabíamos e, não contente, mostra em frente da turma inteira que não somos capazes.
O que é que estas situações têm em comum? O que fica não é sobre o outro; é sobre nós. A vergonha, o sentimento de não sermos importantes, o desamparo. Que muitas vezes se intensifica, mais tarde, com o namorado/a que, com toda a generosidade, nos diz “vou acabar a nossa relação, mas o problema não és tu, sou eu que não estou preparado para isto”. Será possível, quando o trauma mora em nós, acreditar nisso? Dificilmente. Porque a falha que mora no trauma aparece sempre que um acontecimento diz o seu nome baixinho. E nesses momentos, não sofremos só por isso, mas por todas as vezes em que isso aconteceu, como uma fatura que se paga com juros.
Quando somos crianças, a verdade que sabemos sobre nós é aquela que as nossas figuras de maior proximidade e vinculação gentilmente nos traduzem. Precisamos deles para colocar legendas no que somos e sentimos. E sempre que isso não acontece, o caminho para internalizar medo e insegurança é quase inevitável.
Mais tarde, à medida que vamos crescendo e legendando o mundo nas nossas próprias narrativas, quando olhamos para o trauma, não o vemos com os olhos de um adulto; quase instintivamente, voltamos a olhar para os acontecimentos da forma como nos sentimos em relação a eles naquela fase do desenvolvimento.
Voltamos a ser pequeninos e vulneráveis e, não raras vezes, a sentir que a responsabilidade e a falha foram, na verdade, nossas.
De entre os vários indicadores de trauma emocional, o mais evidente é a sensação de que a experiência passada permanece no presente. De uma forma geral, o que distingue a memória “normal” da memória do trauma é que esta última armazena pormenores visuais, auditivos, físicos e/ou emocionais, como se tivesse ocorrido há instantes. Esta fica registada e “congelada” no cérebro, principalmente no hemisfério direito (o maior responsável pela gestão das nossas emoções). Por outro lado, as ferramentas que nos permitem dar um novo significado à experiência e deixá-la no passado, sem que interfira no presente/futuro, residem no hemisfério esquerdo (o responsável pela nossa racionalidade). Em suma, quando um trauma ocorre, a intensidade emocional é tão forte que guardamos as memórias como as sentimos, e aqui temos a possibilidade de recordar uma “verdade armadilhada” como anteriormente referido.
No contexto terapêutico, há vários caminhos possíveis para explorar o trauma. Nas últimas décadas, é importante destacar a Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), que significa Dessensibilização e Reprocessamento através do Movimento Ocular, trata-se de um método de dessensibilização e reprocessamento de experiências emocionalmente traumáticas através da estimulação bilateral do cérebro, promovendo assim a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Denominada genericamente por psicoterapia de reprocessamento, a terapia EMDR foi idealizada como psicoterapia breve, focal e integrativa.
Foi descoberta pela cientista americana Francine Shapiro no final da década de 80, e aprovada pela Organização Mundial de Saúde para tratar o Perturbação de Stress Pós-Traumático, mas atualmente, a sua aplicabilidade na prática clínica e os estudos científicos levados a cabo indicam que a gama de perturbações psicopatológicas é muito mais ampla, incluindo depressão, ansiedade, dependências, dor crónica, luto, entre outros.
Esta abordagem pode ser utilizada isoladamente, ou pode ser integrada no processo de acompanhamento psicológico/psicoterapêutico. É imprescindível que seja aplicada por psicólogos e/ou psiquiatras com formação certificada para o efeito, independentemente da sua abordagem clínica.
Efetivamente, todos temos um sistema de processamento psicofisiológico de informação. Este processa os elementos das nossas vivencias e armazena as memórias, que são ligadas em redes (com pensamentos, imagens, emoções, e sensações relacionados).
Quando um evento traumático ou muito negativo ocorre, o processamento de informação pode ficar incompleto, porque os sentimentos ou a dissociação forte interferem com este processamento. Assim, existe um obstáculo à conexão com a informação mais adaptável que reside em outras redes de memória.
Muitas vezes, em contexto terapêutico de associação livre, quando o indivíduo pensa sobre o trauma, pode sentir-se a reviver o evento, com as mesmas emoções e sensações
físicas intensas, o que dificulta o processo.
O mesmo pode acontecer em situações diárias que, por algum motivo, se conectem na mesma cadeia associativa de memórias.
Shapiro propunha que a EMDR podia ajudar a aliviar as queixas clínicas ao processar os componentes das memórias perturbadoras. O Processamento Adaptativo da Informação ocorre quando a memória alvo é conectada a uma informação mais adaptativa, através da aprendizagem. Desta forma, a experiência é armazenada com as emoções apropriadas, capazes de guiar a pessoa apropriadamente no futuro.
Na psicoterapia com EMDR utiliza-se se um protocolo específico que se foca nos diversos componentes da memória traumática. A estimulação bilateral alternada (visual – à semelhança do sono REM, uma das formas naturais de reprocessamento de memórias perturbadoras, – auditiva ou táctil, dependendo do que o paciente preferir) parece ativar o sistema nervoso parassimpático, possibilitando que o indivíduo dessensibilize e integre a memória perturbadora de uma forma mais adaptativa.
Esse resultado permite uma nova visualização do problema (que denominamos por reprocessamento), decorrente da reativação de algumas regiões cognitivas do paciente. Assim, torna-se possível “fazermos as pazes com a nossa criança interior”, ao percebermos, por exemplo, que a responsabilização e a culpa podem dar lugar a uma crença mais adaptada sobre nós, que compreenda, sobretudo, que fizemos o melhor que podíamos com os recursos de que dispúnhamos à data.