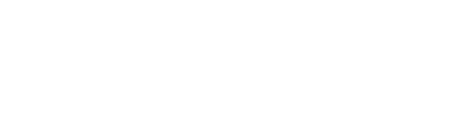Artigo por
A finitude da vida é algo que aterroriza a maior parte de nós ou dos que já alcançaram a consciência de tal fenómeno: “Terror de morte”, como lhe chama Irvin D. Yalom. Evitamos falar sobre a mortalidade, talvez porque não conseguimos oferecer uma “cura” a quem nos procura aterrorizado com esta parte da vida. É incontornável – todos vamos morrer. Muitos procuram fugir a esta verdade e, por muito irónico que aparente ser, só quem a aceita parece conseguir viver plenamente. O tão procurado “aqui e agora” só é atingível na sua plenitude quando aceitamos o fim.
Aceitar a nossa própria mortalidade é aceitar a vida. Tudo acaba, as flores murcham e a vida continua. No livro “De Olhos Fixos no Sol”, Yalom conta-nos como “Heidegger uma vez definiu a morte como sendo “a impossibilidade de mais possibilidades”.”. Como nos diz Alberto Caeiro no poema “Quando vier a primavera”:
“Quando vier a primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira,
E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme,
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma.
Se soubesse que amanhã morria,
E a primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.”.
Existe uma fase das nossas vidas, onde a mortalidade ou defeitos dos nossos pais ou cuidadores não têm lugar na realidade. No nosso mundo interno, eles são heróis imortais. Tudo o que contenha a possibilidade de causar danos, não pode ser culpa destes seres especiais – é uma verdade demasiado pesada para aceitarmos em tão tenra idade. Por causa disto, interiorizamos que a culpa de algo ter acontecido só pode ser nossa. Como é que os nossos heróis iriam falhar desta maneira? É impensável. Mais tarde, esta crença modifica-se e começamos a tomar consciência da humanidade que os acompanha, tal e qual como a todos os seres que caminham sob o mesmo chão. Começamos a tomar consciência de que o que vai, nem sempre volta, e lidamos pela primeira vez com a finitude. Yalom afirma “Dor e perda podem despertar-nos, tornando-nos mais conscientes da nossa existência”. Claro que não queremos, fazemos birras quando estamos tão focados no que foi e no que não aceitamos que não irá voltar. Na fase adulta, o mesmo acontece, só que de maneira diferente.
Na relação terapêutica também a ansiedade de algo efémero existe. As resistências podem surgir na base de pensamentos como “porque é que vou estar a investir neste processo e nesta pessoa se eventualmente vai acabar?”, “e se o meu terapeuta morrer?”, “como é que vou conseguir sustentar tudo o que libertei se ele for embora?”. De um ponto de vista, podemos afirmar que não vale a pena sofrer este tipo de perda. O mesmo se passa cá fora, com a vida, com as relações, com atividades ou interesses. No fundo a questão é: “Se vou morrer, para quê viver?”
O autor faz referência ao conceito de “rippling” que nos fala de como as nossas ações podem perdurar no tempo através de memórias e lembranças da nossa vida pelos que permanecem presentes. Os que permanecem vivos terão, então, a possibilidade de manter a nossa essência a salvo do poço do esquecimento através da comunicação e partilha das mesmas – uma espécie de imortalidade.
Pensemos em Sigmund Freud. Freud faleceu em 1939 e até ao momento presente continuamos a estudar as suas teorias e o seu estilo de vida. Apoiamo-nos no conhecimento que produziu, seja para nos basearmos nele ou para o contradizer. No entanto, temos plena consciência de que isso não o traz de volta à vida e de que faleceu com o conhecimento que possuía, mas é inegável aquilo que fez durante a sua vida e o quanto contribuiu e continua a contribuir para alimentar a área da Psicanálise e outras áreas circundantes. Conseguimos fazer perdurar o seu legado através das memórias, do estudo, da procura de conhecimento.
Esta linha de pensamento leva-me a recordar o filme “Coco”, o qual aborda exatamente esta temática. A cultura mexicana tem uma tradição, o “Dia de los Muertos”, onde os membros expõem fotografias de todos os seus antepassados e contam histórias sobre as suas vidas, para que estes, de alguma maneira, continuem vivos nas memórias dos familiares e posteriores gerações.
Acredito que este conceito possa oferecer algum conforto, apesar de não retirar o peso a quem escolhe ignorar o destino final. Esforçamo-nos para contornar a finitude através de cirurgias, adrenalina, relações, e mais umas quantas coisas, mas tudo isto não passa de uma tentativa de fuga. Tentar controlar o incontrolável.
A Ansiedade de Morte parece-me uma ansiedade geral que, por norma, só costuma lidar com ela quem é obrigado a fixar os olhos no sol. E o sol está sempre lá, ainda que, por vezes, encoberto. Não é obrigatório cegarmo-nos de tanto tempo olhar, mas reconhecer a sua existência e o seu propósito parece-me saudável e apropriado.
“Quanto menos vivida é uma vida, maior a ansiedade de morte”
Referência:
Ilustração de Andhikaramadhia (2020).
Yalom, I. D. (2016). De Olhos Fixos no Sol. Saída de Emergência.