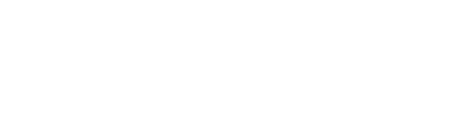Cada um de nós se faz acompanhar de algo que gosto de apelidar de “Casa”. Faz-me sentido apresentar esta analogia com letra maiúscula devido à associação e comparação com a escrita de nomes de cidades, países, planetas. Tal como cada um destes exemplos, a nossa Casa é também formada por um ecossistema próprio, habitantes, construções, evoluções históricas, entre outros… ou seja, é um conjunto de tudo aquilo que habita dentro de nós e que compõe o nosso ”eu”. Esta morada começa a ser construída quando emergimos na existência, o que acontece muito antes do nascimento propriamente dito. De um modo simplista, pode ter início nas idealizações, expectativas, fantasias, sonhos e medos que pertencem aos nossos pais quando decidem ter um filho e que, por sua vez, irão ser, inconscientemente ou conscientemente, incutidos ao futuro filho. De um modo mais profundo, definir o início desta existência parece-me ser algo complexo – quanto mais para trás me dirijo, mais partes de existência encontro.
Regredindo, faz-me sentido que a existência individual possa ter tido o seu início em gerações passadas. De acordo com esta linha de pensamento, apoio-me no conceito de “trauma geracional”. Se o trauma pode ser passado de geração em geração, através de experiências, informação histórica ou histórias ouvidas, talvez também a nossa existência possa ter o seu início em desejos e fantasias dos nossos antepassados que foram passados de geração em geração adaptando-se ao contexto em vigor. Assim, faz sentido que a nossa existência seja, também, um acumular de fantasias, desejos e necessidades de gerações anteriores e que estas estejam constantemente a ser projetadas em nós ao longo do tempo. Todos estes processos parecem acontecer antes do nosso nascimento. Como tal, começamos a existir muito antes de chegarmos ao mundo. Antes de termos uma história, já fazemos parte dela. “Um Homem pode não saber para onde é que ele vai, mas ele tem de saber de onde é que vem”.
Quando chegamos ao processo de gravidez, todo este acumular de informação se torna mais palpável. Tanto um progenitor como o outro criam o “bebé imaginário”, se falarmos de um processo saudável, e este bebé “nasce” muito antes da concepção propriamente dita. Quando pensamos em ter um filho, estamos a idealizá-lo, independentemente se é algo que vai acontecer a longo ou a curto prazo. Idealizar o bebé significa fantasiar como gostaríamos que ele fosse, como gostaríamos que se comportasse, como imaginaríamos o seu crescimento, a voz, o toque, o cheiro,… tudo aquilo que poderá fazer parte da sua existência. Assim, o bebé nasce no mundo simbólico. A partir do parto, o bebé efetivamente nasce e dá-se um conflito entre as fantasias dos pais e a realidade. Uns pais ajustam as suas fantasias, de modo a encontrar um consenso entre o imaginário e a realidade, outros ficam presos nelas e o bebé pode acabar por não ter espaço para se expressar e individualizar.
Retomando a analogia, vemos que a Casa já se encontra em construção. Aliás, podemos até afirmar que já está cheia de divisões. Para além do que até agora foi abordado, a nossa Casa também é composta por todos os nossos sonhos, fantasias, incertezas, medos, todos com quem nos cruzamos e tudo aquilo que experienciamos. Podemos dizer que é o núcleo da identidade – um conjunto de tudo o que nos levou a ser “eu”. Por esse motivo, gosto de imaginar esta Casa com variadíssimas divisões, várias personalidades e estilos decorativos, de acordo com aquilo que cada divisão representa, vários adereços espalhados pelo mobiliário, enfim…, vários pedacinhos de história. Tudo aquilo que vive na Casa tem uma história, uma simbologia particular que só quem lá habita consegue verdadeiramente compreender. Há também divisões fechadas a quatro chaves, assim como existem divisões que nem de porta necessitam. A Casa é infinita e comporta em si espaço para tudo o que carregamos no nosso interior. E, tal como qualquer outra construção, é natural que sofra alterações e atualizações ao longo do tempo, de acordo com aquilo que acreditamos ou vivemos em determinada fase de vida.
No filme “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” existe uma cena interessante que me parece conseguir retratar este pensamento: quando a personagem principal, Joel, regride nas suas memórias, temos acesso a um menino pequenino assustado que se esconde por debaixo de uma mesa redonda gigante central na cozinha. Enquanto a sua mãe permanece atarefada, Joel repete insistentemente “só queria ser agarrado”, “porque é que ela não me dá atenção?”. É compreensível que para o Joel pequenino, este tenha sido um sentimento tão impactante que a sua Casa e várias divisões possam ter sido invadidas por ele, tornando-se o tema predominante. No entanto, com o passar do tempo e com o acumular de novas experiências, a Casa altera-se. Esta memória, apesar de permanecer importante e fundamental, já não é o tema central. A Casa já não está invadida por ela, mas esta memória continua a existir algures lá dentro.
Apesar da Casa guardar memórias traumáticas, também guarda memórias boas e gratificantes. Gosto de refletir nas frases “não existe luz sem escuridão” e “não existe o bom sem o mau”. Penso que estas ilustram bem a necessidade de recorrer à construção de várias divisões e limitar, ou não, o acesso a algumas delas. Este é o processo que fazemos durante a vida – selecionamos informação para manter consciente e outra para morar no inconsciente. Seguindo esta linha de pensamento, é inevitável a compreensão do quanto fomos moldados a Casa e o quanto moldamos a Casa a nós. Eventualmente, o “eu”, habitante da Casa, passa a ser uma construção mais abrangente na qual escolhemos guardar e interiorizar determinados elementos de outras pessoas e, por isso, passamos também a ser um conjunto de recordações daqueles que passaram por nós e que decidimos eternizar.
Assim, por vezes, podemos ser enganados pelo sentimento de “sabe a casa” ou da sensação de “sinto-me em casa”. Nem tudo o que nos faz sentir em casa é necessariamente bom. Dependendo da nossa Casa ou dos sentimentos que determinada relação evoca em nós, podemos estar, inconscientemente, a (re)viver traumas infantis. Algumas relações podem estar a ser sustentadas por traumas que, inconscientemente, esperamos resolver na idade adulta. Um dos factores para ser considerado trauma é o de que, na altura do acontecimento, não tínhamos maneira de lidar com a ocorrência, seja pela fase de vida ou pelos recursos disponíveis e, por esse motivo, tornou-se demasiado para aguentarmos. A diferença entre a infância e o momento presente é que, desta vez, somos adultos com mais capacidades e experiências. Logo, deveríamos ter recursos suficientemente apurados para resolver o conflito e alterar o padrão vivido, certo? Nem sempre. A razão pela qual pode não acontecer, não tem propriamente a ver com os recursos físicos ou emocionais a que agora temos acesso. Poderá ter mais a ver com o facto de não querermos tomar consciência de que não controlamos a Casa dos outros e, consequentemente, como estes a escolhem organizar. Por vezes, podemos ter tendência a agir como funcionário de limpeza, imitando o papel de mãe/pai num plano simbólico. Ou seja, podemos colocar-nos no papel de “se eu limpar o quarto, ele não volta a ficar sujo” ou “se eu demonstrar o que é amar, o outro vai saber dar-me amor”. É cometido um erro neste sentido, pois não vamos, nem conseguimos, substituir estas figuras na vida do outro, nem manter este papel a longo prazo e, muito menos, com os efeitos que gostaríamos que surgissem. Cada um é responsável pela organização e limpeza da sua própria Casa.
Vemos, recorrentemente, este padrão em relações claramente tóxicas: uma relação de amor-ódio. “Gosto, faz-me mal, mas não consigo deixar. Há algo que me prende”. Estamos conectados pelo trauma, sendo uma ligação muito difícil de quebrar porque constrói uma ponte entre duas partes: ao mesmo tempo que alimenta e satisfaz uma parte doente, também corrói e destrói uma parte saudável. Parece ser uma repetição de relações, como já nos dizia Freud em relação ao conceito de “transferência”: são sentimentos vividos em relações passadas transferidos para relações presentes.
Por exemplo, se tivemos na infância uma figura parental significativa que batia para “educar” e, momentos depois, comportava-se como se fôssemos a pessoa mais importante da sua vida, a informação que poderá ficar será a de que “mesmo que me tratem mal, no fundo gostam de mim” ou “se me maltratam, é porque devo merecer”. Facilmente esta maneira de pensar se manifesta na vida adulta – escolhemos relações onde nos rebaixam, humilham ou abusam porque aprendemos que isso significa ter uma ligação profunda. No fundo, é um pedaço de Casa. E tudo o que nos aproxima de Casa tem um efeito sedutor e aliciante. Podemos até pensar que desta vez vai ser diferente e que vamos, finalmente, alterar a situação ou a pessoa para nos dar o amor que sempre desejamos. Assim se formam ciclos tóxicos de dependência.
No entanto, há sempre alguma coisa dentro de nós que grita “algo não está bem”. Muitas vezes, abafamos essa voz porque estas experiências têm por base as relações sob as quais crescemos e nos desenvolvemos. Se somos criados num ambiente onde existem roubos constantes, como é que vamos crescer a confiar abertamente nos outros? Não faz sentido. Evoluímos consoante as nossas necessidades. Por isso, “aceitamos o amor que achamos que merecemos”. Este amor reflete o valor que damos a nós próprios enquanto indivíduos. Se aprendemos a interiorizar que não somos importantes, ou que não somos capazes de ser amados, ou que temos de merecer o amor de outros, é isso que vamos procurar em relações futuras. Como este padrão de comportamento ou pensamento nos foi incutido por figuras extremamente importantes e significativas, procuramos corresponder-lhes ao longo da vida. É o que conhecemos. O desconhecido é imprevisível e sentido como perigoso, daí a atração a Casa. Sentirmo-nos em casa também significa reconectarmo-nos com partes do nosso “eu” infantil. Como Pablo Picasso afirmou por outras palavras, passamos a vida toda a tentar voltar a ser crianças.
Na nossa Casa habitam todas as nossas versões e significados que atribuímos a outras pessoas. Nada é inteiramente bom e nada é inteiramente mau. A dependência de relações baseia-se na satisfação de ambas as partes: saudável e doente. Há quem escolha permanecer doente para conseguir usufruir do bom que existe. Há quem escolha permanecer saudável e lidar com a dor de perder aquilo que o adoecia. A doença é, por vezes, Casa. E é difícil virar as costas a Casa. Mesmo estando a desmoronar-se, agarramo-nos às partes que conseguimos.
Referências:
Chbosky, S. (2012). The Perks of being a Wallflower. Simon & Schuster.
Gondry, M. (2004). Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Focus Features.
Ilustração de Francisco Fonseca. Instagram: _francis.co.
Plutónio (2024). País das Maravilhas. Em Carta de Alforria. Charlie Beats.